 A política norte-americana é uma das realidades mais criticáveis do mundo atual: tem ruído a mais, gastam-se milhões de dólares nas campanhas e as corridas presidenciais demoram um tempo que chega a parecer insano.
A política norte-americana é uma das realidades mais criticáveis do mundo atual: tem ruído a mais, gastam-se milhões de dólares nas campanhas e as corridas presidenciais demoram um tempo que chega a parecer insano.
Acresce a tudo isto que o sistema político em Washington está de tal modo blindado a excessos de poder que tende a ser disfuncional: Casa Branca e Congresso estão numa constante fricção, sobretudo num tempo como este, em que o Presidente é democrata e a Câmara dos Representantes é dominada pelos republicanos, com um forte pendor da ala radical (o tão falado «Tea Party).
Há dados que apontam para um certo enfraquecimento do poder americano.
A forma como Barack Obama perdeu a condição de «ás de trunfo» para Vladimir Putin na gestão da crise síria acabou de custar ao Presidente dos EUA a perda do estatuto de «homem mais poderoso do Mundo», precisamente para o homólogo russo, no «ranking» recentemente divulgado pela «Forbes».
Quando se avalia o «poderio mundial» dos EUA, tendemos a medir a força bélica. Nesse plano, e apesar dos cortes orçamentais já em curso no Pentágono, a diferença da América para todos os outros apenas diminuiu. Mas continua ser enorme.
Já foi maior? Certo. Há cinco/dez anos, o exército americano, sozinho, era mais poderoso do que o dos 20 países seguidos. Agora a diferença não é tão grande, de facto. Mas os EUA mantêm-se mais fortes que os oito exércitos que se seguem.
O que é que isto significa? Significa que a América, mesmo neste mundo em mudança, com novas polaridades, continua a ser o país indispensável.
Parece claro que a América está a deixar de ser a única superpotência. Há novos atores a emergir (Rússia, China e, em certos setores, também Índia e Brasil). Mas daí até sentenciarmos o fim do domínio americano vai um enorme passo.
O 11 de Setembro de 2001 parecia ter sido a primeira machadada no poder americano. Mas os anos que se seguiram mantiveram a América no topo da agenda mundial.
O «cisne negro» a anunciar o enfraquecimento viria em 2008: em plena excitação da campanha que elegeu pela primeira vez um negro para a presidência, os EUA caíam numa crise financeira inimaginável, que viria a infetar todo o sistema financeiro mundial, sobretudo o europeu.
O que leva, então, tanta gente, em todo o Mundo, a continuar a olhar com puro fascínio para o que se passa na América?
É aqui que entra o papel da comunicação política. Ele tem sido simplesmente decisivo na imagem que os EUA mantêm no resto do Mundo.
Nós, europeus, temos uma espécie de relação contraditória com os americanos. Adoramos dizer mal deles, mas nos momentos decisivos sabemos que é do outro lado do Atlântico que se encontra a nossa maior âncora.
As duas eleições presidenciais de Barack Obama foram a maior prova disso. Os méritos políticos do 44.º Presidente dos EUA foram importantes para o seu sucesso eleitoral (há até quem diga que Obama é bem melhor «candidato» do que tem sido «presidente»).
Mas o que fez a diferença na «Obamania» (pura excitação em 2008, máquina eleitoral de impressionante eficácia em 2012) foi o sentimento de admiração e fascínio que o candidato conseguiu provocar.
É fácil postular que «em política tem que se parecer genuíno». Mas não basta tentar vender essa ideia. Sem um candidato com as características certas, não há comunicação com toques de mágica.
Barack Obama não foi, propriamente, inovador no uso da internet para uma campanha presidencial americano. Al Gore, em 2000, fez uma experiência ainda incipiente (estava tudo muito no início no mundo www) e Howard Dean, nas primárias democratas de 2004, foi pioneiro no sistema de recolha de financiamento privado, via net.
Mas a grande transformação deu-se com Obama-2008: a recolha «grassroots», na base, porta a porta, e com um efeito multiplicador (quem era «convertido» passava também a, localmente, angariar apoiantes e pequenos doadores).
Barack Obama tinha feito uma experiência em escala menor na campanha para o Senado pelo Illonois em 2004, com um super resultado de 70% nas urnas. O caminho estava no início, mas parecia inexorável.
A comunicação na política americana está baseada no indivíduo e não no coletivo. Contam muito mais as personalidades do que os partidos e também por isso é fundamental saber «vender» a história de vida.
A narrativa pessoal que Obama conseguiu divulgar (com uma história comovente da mãe idealista que apostou na educação do filho promissor) foi decisiva para se perceber como foi possível que um país com tanto racismo como os EUA tenham eleito, por duas vezes, e de forma tão folgada, um negro para a presidência.
E é essa sensação de singularidade, de capacidade de desafiar rótulos e inovar constantemente, que tornam a política americana tão especial.
Mesmo que lhe apontemos tantos defeitos, continuamos a ter muito a aprender com ela.
Germano Almeida
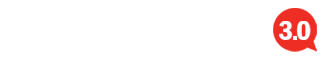











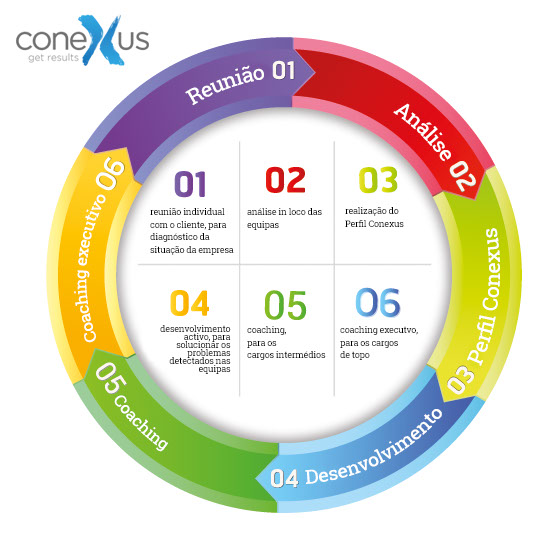
0 comentários:
Enviar um comentário